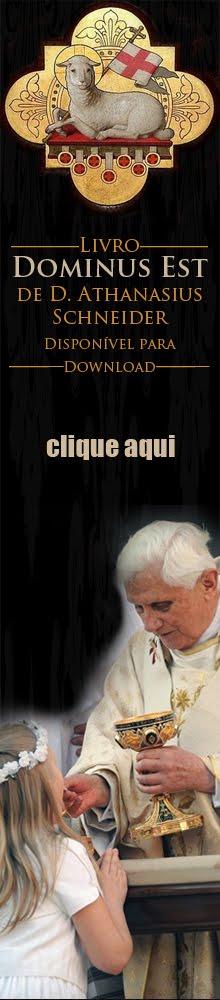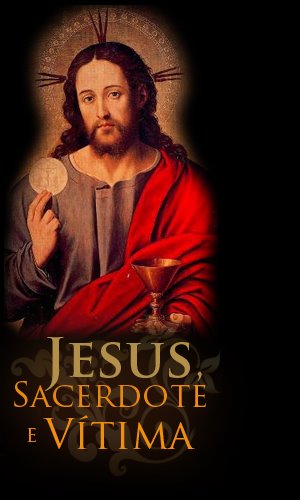Versus Orientem
O Papa atual sempre denunciou com numerosas intervenções orais e escritas o caráter arbitrário, contrário a uma tradição que remonta aos tempos apostólicos e pastoralmente pouco produtivo a orientação do celebrante voltado para o povo. Desde a antiguidade cristã mais remota é evidente o fato litúrgico da orientação conjunta da assembléia e do celebrante, orientação que – segundo a própria etimologia do termo – era voltada para o oriente, para a direção do sol nascente, símbolo do Cristo e da sua futura, definitiva vinda.
Na citada entrevista de 5 de setembro de 2003, o então Cardeal Ratzinger afirma: “’Versus orientem’, diria que poderia ser uma ajuda, porque se trata realmente de uma tradição dos tempos apostólicos. Não é só uma norma, mas é também a expressão da dimensão cósmica e da dimensão histórica da liturgia. Nós celebramos com o cosmo, com o mundo. É a direção do futuro do mundo e da nossa história representada pelo sol e pelas realidades cósmicas. Penso que hoje esta nova descoberta da nossa relação com o mundo criado pode ser compreendida também pelas pessoas, talvez melhor que há 20 anos atrás. E agora, trata-se de uma direção em comum – o padre e o povo orientados juntos para o Senhor. Por isso penso que poderia ser uma ajuda. Desde sempre os gesto exteriores não são simplesmente um remédio em si mesmos, mas podem ser uma ajuda, porque se trata da clássica interpretação de que coisa é a direção na liturgia”.
Um capítulo inteiro da “Introduzione allo spirito della liturgia” é dedicado a este problema. Ali se lê, por exemplo: “Para além de todas as mudanças, uma coisa ficou clara para toda a cristandade, até fins do segundo milênio: a oração voltada para o oriente é uma tradição que remonta às origens e é expressão fundamental da síntese cristã de cosmo e história da salvação e do caminho em direção ao Senhor que vem” (p. 70-71).
Frequentemente, dão-se duas motivações para a inovação consistente na orientação do sacerdote para o povo: em primeiro lugar, ele representaria Cristo na última ceia, sentado à mesa diante dos Apóstolos; em segundo lugar, as grandes basílicas romanas, e primeiramente São Pedro, são voltadas para o ocidente: o celebrante, se quisesse voltar-se para o oriente durante a oração, deveria, por isso, olhar em direção da entrada e, portanto, para o povo. No texto acima citado, o Cardeal Ratzinger faz as seguintes observações sobre tais teses, citando, por sua vez, e fazendo seu o texto de L. Bouyer “Architettura e liturgia”: “É evidente que deste modo se compreendeu mal o sentido da basílica romana e da disposição do altar no seu interior. Cito a propósito ainda uma vez Bouyer: ‘Antes daquela época (isto é, antes do século XVI) não temos nunca nem de nenhuma parte o mínimo indício de que se tenha atribuído alguma importância ou pelo menos alguma atenção ao fato que o presbítero celebrasse voltado para o povo diante dele ou atrás de si’. Como demonstrou Cyrille Vogel, a única coisa na qual verdadeiramente se insistiu e da qual se faz menção é que ele devia rezar a oração eucarística, como todas as outras orações, voltado para o oriente... Mesmo quando o orientamento da Igreja permitia ao celebrante de rezar voltado para o povo quando estava no altar, não era só o presbítero que devia voltar-se para o oriente: era toda a assembléia que o fazi juntamente com ele”.
Quanto à Última Ceia, lê-se: “Em nenhuma refeição do início da era cristã o presidente de uma assembleia de comensais estava defronte ao outros participantes. Estavam todos sentados ou reclinados sobre o lado convexo de uma mesa em forma de sigma. De parte alguma, portanto, na antiguidade cristã, poderia ter vindo a ideia de colocar-se defronte ao povo para presidir a uma refeição. Pelo contrário, o caráter comunitário da refeição era colocado em relevo exatamente pela arrumação contrária, isto é, pelo fato de que todos os participantes se encontrassem do mesmo lado da mesa”.
Em todo caso, o autor imediatamente tem o cuidado de sublinhar que, segundo a doutrina católica, a imagem da “refeição” e do “banquete” é totalmente insuficiente para determinar a natureza da celebração eucarística. Para o então Cardeal “o Senhor indubitavelmente instituiu a novidade do culto cristão no âmbito de um banquete pascal hebraico, mas no ordenou repetir essa novidade, não o banquete enquanto tal”.
Ao ato prático, o efeito mais notável da modificação realizada foi ter feito do sacerdote (e não mais de Deus) o centro da celebração.
“Tudo termina nele. É a ele que é necessário olhar, é da sua ação que se toma parte, é a ele que se responde; é a sua criatividade que sustenta o conjunto da celebração. A atenção é sempre menos dirigida a Deus e é sempre mais importante aquilo que as pessoas fazem. O sacerdote voltado para o povo dá à comunidade o aspecto de um todo fechado em si mesmo. Esta já não é mais - na sua forma – aberta na frente e voltada para o alto, mas se fecha em si mesma. O ato com o qual todos se dirigiam para o oriente não era ‘celebração voltada para a parede’, não significava que o sacerdote ‘voltava as costas ao povo’: mesmo porque ele não era considerado tão importante” (p. 76 del testo cit.).
Em suma, “assim introduziu-se uma clericalização como nunca ohuve precedentemente” – em gritante contraste com a finalidade declarada pela reforma.
Vale a pena ressaltar que as linhas citadas um pouco acima, nas quais o Papa desaprova a redução da celebração eucarística à memória de um ceia, tocam todo o tema da desvalorização do aspecto sacrifical próprio da eucaristia; desvalorização levada adiante em muitos ambientes no pós-concílio.
No citado livro-entrevista “Rapporto sulla fede” lemos: “A Missa não é somente uma refeição entre amigos, reunidos para comemorar a última ceia do Senhor mediante a condivisão do pão. A missa é o sacrifício comum da Igreja, no qual o Senhor reza conosco e por nós e a nós se dá. É a renovação sacramental do sacirfício de Cristo”.
A presença real do Senhor nas espécies consagradas gera de modo totalmente legítimo formas de culto eucarístico também fora da Missa: “Esqueceu-se que a adoração é um aprofundamento da comunhão. Não se trata de uma devoção ‘individualística’, mas do prosseguimento ou da preparação do momento comunitário. É necessário, portanto, continuar com aquela prática, tão cara ao povo (em Munique da Baviera, quando a pastoreava, dela participavam dezenas de milhares de pessoas) da procissão de Corpus Christi. Também sobre ela os ‘arqueólogos’ da liturgia deverão rir, lembrando que essa procissão não existia na Igreja romana dos primeiros séculos. Mas, repito quanto já disse: ao sensus fidei do povo católico deve ser reconhecida a possibilidade de aprofundar, de levar à luz, século após século, todas as conseqüências do patrimônio que lhe foi confiado”.