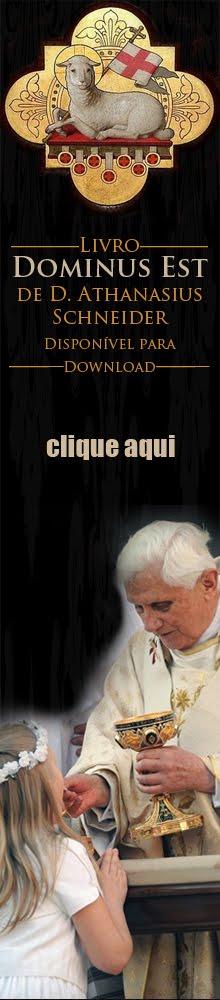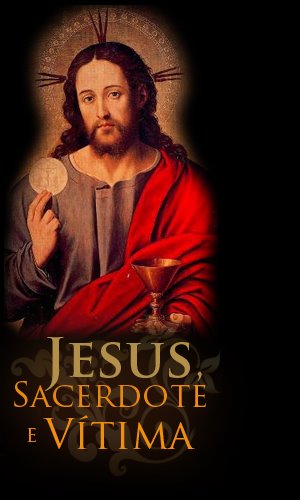Sobre o vestuário dos padres diocesanos
1. O aggiornamento e a reflexão conciliar
Resumido tantas vezes no conceito de aggiornamento, o Concílio Vaticano II representou um esforço da Igreja se repensar a si mesma e à sua missão no mundo contemporâneo (GS 4). Entre outros aspectos, emerge, por um lado, do Concílio, uma renovada compreensão dos presbíteros (PO 2), traduzida nas palavras do saudoso Papa João Paulo II como aqueles que são «chamados a prolongar a presença de Cristo, único e sumo Pastor, actualizando o Seu estilo de vida e tornando-se como que a Sua transparência no meio do rebanho a eles confiado» (PDV, 15). Por outro lado, reafirma-se a importância deste ministério ser acompanhado por sinais visíveis que «o qualifiquem e habilitem em nome de Deus junto dos seus e do mundo inteiro»(1) pelo seu comportamento, mas também por um modo de vestir (2).
O modo de vestir assumido pelo Concílio foi o defendido pela Igreja desde o séc. V (3) e usualmente designado por hábito eclesiástico, salvo ligeiras alterações consignadas em diversos documentos: fora dos actos e circunstâncias solenes admite-se o “clergyman” (4) ; suprime-se o uso da tonsura ou coroa clerical (5); e a legislação do seu uso é remetida para as Conferências Episcopais (e não para o Ordinário do lugar) (6) .
2. O que (não) é o hábito eclesiástico
O hábito eclesiástico é uma forma simbólica (7) de exteriorização (8) do que se é chamado a ser como padre: «sinal que transparece Cristo» (identidade), «permanentemente disponível para o serviço do Povo de Deus» (missão). Como tal, terá sempre que estar ao serviço da sua identidade e da missão a que é chamado.
De facto, o hábito eclesiástico não é em si mesmo: algo de indispensável para se ser padre; em primeiro lugar uma imposição disciplinar; marca de tradicionalismo; refúgio de medos ou incapacidades; forma de clericalização ou subordinação daqueles a quem estamos chamados a servir; salvo-conduto para pronunciamentos morais e doutrinais autoritaristas; e tantas outras deturpações provenientes do seu mau uso ou compreensão.
3. O seu uso na actualidade
Actualmente tende-se, por um lado, a desvanecer aquela que foi uma oposição directa e preconceituosa ao uso do hábito eclesiástico típica de tantos padres e bispos levados pela «euforia pós-conciliar» dos anos 60-70 (9) e, por outro, a afirmar saudosista e militantemente o desejo de retorno a este e a outros usos fundados na Tradição da Igreja, mas deturpados por uma concepção tradicionalista.
Salvos de ambas posturas radicalizadas e ideoligizadas, importa encontrar formas de cumprir a nova-evangelização motivada pelo Concílio Vaticano II, seguida pelo Papa João Paulo II, retomada pelo Papa Bento XVI, e desejada pela sociedade contemporânea. O uso do hábito eclesiástico é solução? Por si só, claro que não, mas pode significar uma mais-valia a nível vocacional, pastoral e eclesial.
De facto, a nível vocacional, porque antes de servir a outros, serve de meio de santificação para o próprio padre, na medida em que o lembra constantemente o ministério que lhe é confiado. Por outro lado, porque significa uma profissão de fé pública e explícita n’Aquele em quem confiou a sua vida, capaz de fazer incomodar e questionar muitos na sociedade actual (10) .
A nível pastoral, já que o uso do hábito eclesiástico é incompatível com uma funcionalização do ministério que o remetesse para uma espécie de “farda de trabalho”. Na verdade, ele é expressão de um carácter recebido na Ordenação, que faz do presbítero sacramento no meio do mundo e, ao mesmo tempo, uma das formas adoptadas pela Igreja para se inculturar no mundo (11) sem cair no secularismo (12). Por outro lado, é também expressão de uma missão, já que tem utilidade para o Povo de Deus (enquanto é: forma de transcendência no mundo; testemunho de disponibilidade e desinteresse pessoal; forma de chegar aos não-fiéis).
E também eclesial, na medida em que o uso de uma forma eclesial distintiva pelos presbíteros pode ser sinal (13), por um lado, de que a mensagem que cada padre é chamado a anunciar não lhe pertence, mas lhe é confiada pelo próprio Cristo em nome da Igreja, e, por outro, de que não age sozinho, mas como um Corpo (concretizado particularmente no presbitério) que se identifica por um conjunto de gestos e palavras comuns.
4. Como integrar o seu uso na formação para o presbiterado
A questão é complexa (14), porém, de acordo com o costume observado na diocese de Roma (15), o uso do hábito eclesiástico deve começar no período de formação no Seminário a partir do rito de admissão dos candidatos ao sacerdócio, para que o progressivo amadurecimento na fé e na identificação com Cristo corresponda a um progressivo comprometimento eclesial (PDV 58), e para que o sentido de semelhante uso seja por si correctamente apreendido (16).
____________________________
(1) Cf. Cong. para a Educação católica, Carta circular sobre alguns aspectos mais urgentes da formação espiritual nos Seminários, II, 2 em Comissão Episcopal do clero, seminários e vocações, Padres para este tempo. Documentos do Magistério da Igreja sobre a formação para o ministério presbiteral (1965-1992), Porto 1992, pp. 243s
(2) Cf. Cong. para o Clero, Directório para o ministério e vida dos presbíteros, n. 66 (aprovado pelo Papa João Paulo II no dia 31 de Janeiro de 1994). No mesmo número pode ler-se: «Numa sociedade secularizada e de tendência materialista, onde os próprios sinais externos da realidades sagradas e sobrenaturais tendem a desaparecer, sente-se particularmente a necessidade de que o presbítero (...) seja reconhecível pela comunidade, também pelo hábito que traz, como sinal inequívoco da sua dedicação e da sua identidade de detentor dum ministério público (...). Por este motivo, o clérigo deve trazer um hábito eclesiástico decoroso, segundo as normas emanadas da Conferência Episcopal e segundo os legítimos costumes locais. Isto significa que tal hábito, quando não é o talar, deve ser diverso da maneira de vestir dos leigos e conforme à dignidade e sacralidade do ministério. O feitio e a cor devem ser estabelecidos pela Conferência dos Bispos, sempre de harmonia com as disposições do direito universal (...). Salvas excepções perfeitamente excepcionais, o não uso do hábito eclesiástico por parte do clérigo pode manifestar uma consciência débil da sua identidade de pastor inteiramente dedicado ao serviço da Igreja».
No que diz respeito ao secularismo no momento actual da Igreja e consequente conflito geracional é importante consultar o Disc. aos reitores dos Seminários Pontifícios por D. Jean-Louis Bruguès «Formação para o sacerdócio: entre o secularismo e os modelos de Igreja» (publicado no Osservatore Romano a 3 Jun 2009); bem como, no âmbito do VI Simpósio do Clero de Portugal, a Conf. de D. José Policarpo «Crescer como Pessoas para servir como Pastores» (pp. 89-101) e a intervenção de Graça Franco (p. 120).
(3) Pelo menos até ao séc. III «Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes (...). Vivem em cidades gregas e bárbaras, segundo as circunstâncias de cada um, e seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que tomam, quer em outros usos; mas a sua maneira de viver é sempre admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio» (Carta a Diogneto, 5, 1 - escrita entre os anos 190-200 d. C.). A. RACINET na Enciclopédia história do traje defende que «a toga era a principal peça de vestuário exterior usada pelo cidadão romano. As togas eram feitas de várias cores diferentes. O imperador usava uma toga de cor púrpura, enquanto que a toga de cidadão abastado era feita de lã branca da melhor qualidade. Os artesãos e os pobres usavam togas de lã de cor escura. A toga cândida era expressamente tingida de branco e usada por aqueles que procuravam ser eleitos, daí o termo candidus».
O primeiro testemunho que encontramos do uso de um vestuário eclesiástico data de 428 d. C. e é uma carta do papa Celestino aos bispos de Provença condenando o uso introduzido por bispos oriundos de Lérins de usarem vestuário especial, condenação esta contrariada no cân 5 do Concílio de Mâcon (518 ou 583) e no cân. 21, 27 do Sínodo Quinisexte ou no Trullo (692).
A origem do hábito eclesiástico parece dever-se principalmente a três razões: ao distanciamento da Igreja em relação a uma sociedade barbarizada e à exaltação da sacralidade da Igreja; à influência de presbíteros de origem monástica que, vinculando-se a uma igreja particular, acabam por manter o seu hábito; e à preocupação por abandonar a sumptuosidade e indecência do modo de vestir de muitos eclesiásticos. Ainda que contestado por uns e aprovado por outros desde o início, o uso de um vestuário específico eclesiástico acabou por se instaurar com o tempo a par dos vários hábitos das ordens religiosas.
De facto, durante os séculos seguintes aparecerão indicações para o seu uso nas Regras monacais (p. ex. em: CASSIANO, Instituciones, I, 3; S. BENTO, Regra, c. 55; Primeira Regra dos Frades Menores, II; S. CLARA, Constituições, IV. Cf. SALAVERRI, J. M., O vestuário religioso. Algumas reflexões. Gráfica de Coimbra, Coimbra 1985, p. 37ss), sempre com a preocupação de que traduzisse a pobreza evangélica e manifestasse o modo de ser do monge. Neste sentido tomará posição S. Tomás de Aquino, depois de analisar os argumentos e as objecções relativos aos religiosos vestirem roupa de pior qualidade que os demais (Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teología, IV. Parte II-II(b), BAC, Madrid 1994, c. 187 a. 6) e citar Sir 19, 30 («A veste de um homem, o seu sorriso e o seu andar revelam o que ele é»).
Mais tarde, o Concílio de Trento trará a famosa expressão (muitas vezes deturpada em seu sentido original) «mesmo considerando que o hábito não faz o monge, o clero deve vestir-se sempre segundo a sua própria condição» (clericos vestes proprio congruentes ordini semper deferre)situando-a na ordem da significação própria do especialmente sagrado - ut per decentiam habitus extrinseci morum honestatem intrinsecam ostendant - (Sess. XIX, decr. de reform., cân 6); o primeiro Concílio de Milão (1565) irá impor a cor negra e o quarto (1576) lembrará a obrigação de usar a batina na Igreja mesmo quando não se use a capa. O Papa Sixto V, acabará mesmo por obrigar os padres a usar a batina com a Constituição Cum Sacrosancta, sob ameaça de punições severas para quem desobedecesse (quatro anos mais tarde esta lei será abrandada, voltando à interpretação mais genérica que prevalecera no Concílio de Trento, de que os padres devem usar um hábito conveniente ao seu estado e de acordo com as disposições do Ordinário do lugar).
Em Portugal, apesar de Pastorais em várias Dioceses regularem a obrigatoriedade e condições do seu uso, acabou por prevalecer uma certa anarquia geral em relação ao uso da batina. Com efeito, a propósito do aspecto geral dos costumes da sociedade portuguesa, e designadamente do clero, no séc. XVIII, Fortunato de Almeida argumenta que: «nos trajos eclesiásticos tem havido bastante variedade, não só no decurso do tempo, como ainda de uma diocese para outra. Nalgumas sedes diocesanas, chegou em tempos recentes a ser muito frequente o uso de capa e batina com barrete eclesiástico, sapato de fivela e meia preta; noutras era esse costume menos vulgar; em algumas introduziram-se trajos que jamais podem obter consagração; e num ou noutro ponto, felizmente raros, alguns deixaram da aparência eclesiástica apenas o escanhoamento da barba, com trajos de cor e forma secular» (Cf. FORTUNATO DE ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, III, Civilização Ed., Barcelos 1970, p. 426s).
(4) «O uso da batina, ou do hábito próprio do respectivo Instituto Religioso, é obrigatório em todos os actos de culto, dentro e fora dos templos (...), nos Seminários e Institutos eclesiásticos. O traje de cerimónia será, para os sacerdotes, a batina com faixa e capa, e para os religiosos o respectivo hábito. Fora dos actos e circunstâncias acima designados admite-se como traje eclesiástico o vulgarmente chamado “clergyman”, que consiste num conjunto de calça, casaco e o tradicional colarinho eclesiástico ou cabeção. Como os nossos costumes sociais consideram a cor preta a de maior distinção, esta continuará a ser a cor própria do traje eclesiástico. Em regiões onde motivos de ordem sócio-religiosa o indiquem, poderá tolerar-se uma cor escura» (Cf. Mensagem do Episcopado ao Clero diocesano e religioso, em Lúmen 30 (1966), pp. 621-625).
(5) Por “prima tonsura” entendia-se o Rito pelo qual se dava a entrada no estado clerical e se começava a usar a tonsura ou coroa clerical. Apesar de não fazer parte do hábito eclesiástico, a tonsura formava com ele um conjunto simbólico.
A sua supressão deve-se à Carta Apostólica sob a forma de Motu Próprio Ministeria Quaedam de SS. Paulo VI (em vigor a partir do dia 1 Jan de 1973) decretada no seguimento da OT e da SC. Nela se lê: «Dado que a entrada no estado clerical é diferida até à recepção do Diaconado, deixa de existir o rito da Prima Tonsura, pelo qual, precedentemente, o leigo se tornava clérigo. Um novo rito, porém, é introduzido, mediante o qual aqueles que aspiram ao Diaconado e ao Presbiterado manifestam publicamente essa sua vontade de se entregarem a Deus e à Igreja, para exercer a Ordem sacra; a Igreja, por sua vez, ao receber este oferecimento, escolhe-os e chama-os, a fim de eles se prepararem para a recepção da mesma Ordem sacra a que aspiram; e, desta forma, serão eles agregados regularmente entre os candidatos ao Diaconado ou ao Presbiterado».
Esta supressão é também manifesta quando se compara o exposto na primeira e na segunda versão do CIC. De facto, no CIC de 1917 lê-se: «todos os clérigos vistam um hábito eclesiástico decente, segundo os legítimos costumes dos lugares e as prescrições do ordinário do lugar; tragam a tonsura ou coroa clerical a não ser que os costumes dos povos exijam o contrário, e usem um modesto asseio do cabelo» (cf. Sagrada Congregação do Concílio, Decreto sobre o hábito eclesiástico, em Opus Dei 6 (1931-1932), pp. 31s). Ao invés no CIC actual lê-se no n. 284: «Os clérigos usem trajo eclesiástico conveniente, segundo as normas estabelecidas pela Conferência Episcopal, e segundo os legítimos costumes dos lugares».
(6) No caso português, a Conferência Episcopal determinará que «usem os sacerdotes um trajo digno e simples de acordo com a sua missão. Esse trajo deve identificá-los sempre como sacerdotes, permanentemente disponíveis para o serviço do povo de Deus. Esta identificação far-se-á, normalmente, pelo uso da batina, ou do fato preto ou de cor discreta com cabeção» (cf. CEP, Notas complementares ao Código promulgadas pela CEP)
(7) O que simboliza?
A batina é simbólica a dois níveis: quanto à forma; e quanto à cor.
A interpretação tradicional diz-nos que, no que diz respeito à sua forma: é talar, por uma questão de pudor e abnegação à moda; os botões da batina na vertical são 33, idade de Cristo aquando da Sua morte; e os botões das mangas da batina são 5, em referência às 5 chagas de Cristo (pode ainda acrescentar-se o simbolismo da faixa, que indica disponibilidade para o serviço e jurisdição pastoral). No que diz respeito à sua cor: é preta, simbolizando a consagração total a Deus (e por isso a morte para tudo o que não é de Deus) e a singularidade da sua missão; e possui o cabeção branco, significando a pureza (não só moral) e o celibato de que o padre deve ser sinal.
(8) Que elementos compõem o hábito eclesiástico?
O hábito eclesiástico dos presbíteros no seu uso comum é composto pela batina preta, ou pelo fato preto ou cor discreta, com cabeção (cf. CEP, Notas complementares ao Código promulgadas pela CEP). No seu uso solene é composto pela batina preta com faixa e capa (Cf. Mensagem do Episcopado ao Clero diocesano e religioso, em Lúmen 30 (1966), pp. 621-625). Ao hábito eclesiástico pode ainda juntar-se a romeira e o chapéu eclesiástico. No que diz respeito às vestes prelatícias pode consultar-se no Cerimonial dos Bispos (aprovado pelo Papa João Paulo II a 7 de Setembro de 1984), nos nn. 1199-1210; ou em La Documentation Catholique, LXVI (1969), pp. 364-366.
(9) Fundamentados numa má compreensão do Concílio (já que o Concílio nunca defendeu o fim do hábito eclesiástico, antes pelo contrário) e, particularmente, do que se entendia por aggiornamento (já que ao procurarem identificar-se com o mundo acabaram por se dissolver nele, desgastando a base sobrenatural do seu ministério), apontavam como grandes argumentos contra o hábito eclesiástico que:
- Cristo vestia-se como as pessoas do Seu tempo (esta afirmação é deveras mal fundamentada, como o será dizer o contrário, já que não temos elementos bíblicos e históricos suficientes que fundamentem uma resposta credível);
- o padre não se deve distinguir pelo vestuário mas sim pelas obras (já sabemos que um meio não tira o outro, antes se supõem e implicam);
a batina afasta as pessoas (partimos do princípio de que a batina é um meio e não um absoluto pastoral, pelo que o seu uso deve ser adequado ao ambiente em que se está e à missão que se tem; não se pode, contudo, partir do princípio de que todas as pessoas sentem repulsa pelo seu uso, já que a realidade indica o contrário, como bem aludia o Papa Paulo VI por ocasião da audiência de 11 de Dez de 1965 quando afirmava que «alguns padres pensam que podem ter um contacto mais íntimo com o mundo, desde que ponham de parte o seu hábito, adoptem o profano ou tenham ideias próprias»);
- não é prático (por um lado, não se exclui a possibilidade de um tipo diferente de identificação simbólica, por outro, o seu uso deve adequar-se ao esforço físico dispendido);
- é símbolo de uma Igreja clericalizada (é difícil descolar a batina do contexto vivido no período anterior ao Concílio, mas é bom lembrar que a inovação e a criatividade terão de partir sempre daquela que é a Tradição e a história da Igreja);
- não é preciso ter vestida uma batina para que o Povo de Deus saiba quem é o Pastor da paróquia (Claro que não! Mal fosse... Apesar de tudo, não se pode colocar de lado os benefícios que este meio de evangelização pode trazer);
- corresponde a uma eclesiologia contrária à preconizada pelo “espírito conciliar” (esta percepção prende-se com uma deficiente compreensão das relações entre: Igreja-mundo-missão; sacerdócio ministerial-sacerdócio baptismal; e presbítero-mundo. Uma leitura profunda de PO 3 e de GS 4.10 resolveria o dilema).
Uma análise não tendenciosa do fenómeno vivido nos anos 60-70 em relação ao uso do hábito eclesiástico, não pode porém deixar de frisar, que o desejo de abandonar tal uso não se deveu somente à incompreensão e rejeição de padres e bispos. De facto, muito contribuiu o esvaziamento progressivo do significado da batina (ficando resumida a um exteriorismo); à sua justificação meramente legalista (com base em prescrições magisteriais e no CIC), sob a forma de imposição; e à falta de flexibilização na adequação aos contextos do seu uso (p. ex. no que diz respeito ao estranho costume de jogar futebol de batina).
A adequada concepção a adoptar deverá ser a valorizada pelo Papa Bento XVI sob a expressão “hermenêutica da continuidade” (Cf. Disc. 22 Dez 2005).
(10) De facto, a sua importância a nível social é manifesta no esforço, frequentemente levado a cabo por regimes políticos adversos à Igreja, de apagar todas as formas possíveis de exteriorização religiosa. Em Portugal temos recentemente o caso da 1º República e a proibição que prescrevia de os padres usarem batina. Na verdade, o Governo Provisório da República fazia saber no decreto com força de lei de 20 de Abril de 1911, mais conhecido por Lei da Separação do Estado das Igrejas, no art. 176º que: «É expressamente proibido, sob pena de desobediência, a partir de 1 de Julho próximo, a todos os ministros de qualquer religião, seminaristas, membros de corporações de assistência e beneficência, encarregadas ou não do culto, empregados e serventuários delas e dos templos, e, em geral, a todos os indivíduos que directa ou indirectamente intervenham ou se destinem a intervir no culto, o uso, fora dos templos e das cerimónias cultuais, de hábitos ou vestes talares».
(11) «Também parece urgente a recuperação desta consciência que impele os sacerdotes a estar presentes e ser identificáveis e reconhecíveis quer pelo juízo da fé, quer pelas virtudes pessoais, quer também pelo hábito, nos âmbitos da cultura e da caridade, desde sempre no coração da missão da Igreja» (Cf. Discurso do Papa Bento XVI durante a Audiência concedida à Congregação para o Clero (a 16 Mar 2009).
(12) A este respeito são interessantes dois excertos do Papa João Paulo II: «Não tenhamos a ilusão de servir ao Evangelho se intentamios diluir o nosso carisma sacerdotal através de um interesse exagerado pelo vasto campo dos problemas temporais, se desejamos laicizar o nosso modo de viver e trabalhar, se suprimimos inclusive os sinais externos da nossa vocação sacerdotal. Devemos conservar o sentido da nossa singular vocação e tal singularidade deve expressar-se também na nossa veste exterior. Não nos envergonhemos dela!» (Cf. Disc. ao Clero Romano do Papa João Paulo II, a 10 Nov 1978); «Assim como é difícil viver e testemunhar a pobreza evangélica numa sociedade de consumo e de abundância, resulta também difícil numa época de secularismo ser sinal do religioso, do Absoluto de Deus. A tendência à nivelação, quando não à inversão de valores, parece favorecer o anonimato da pessoa: ser como os demais, passar inadvertido. E, contudo, a característica de ser sal e luz no mundo (cf Mt 5, 13ss) continua a ser exigência de Cristo, especialmente para quem é consagrado a Ele» (Cf. Disc. em Fátima do Papa João Paulo II, a 13 Mai 1982).
(13) «A vós e aos sacerdotes, diocesanos e religiosos, eu digo: alegrai-vos de ser testemunhas de Cristo no mundo moderno. Não duvideis em fazer-vos reconhecíveis e identificáveis na rua, como homens e mulheres que consagraram a sua vida a Deus (...). As pessoas têm necessidade de sinais e de convites que levem a Deus nesta moderna cidade secular, na qual restaram poucos sinais que nos lembram o Senhor. Não colaboreis com este excluir a Deus dos caminhos do mundo, adoptando modas seculares de vestir ou de vos comportar» (Disc. em Maynooth do Papa João Paulo II, a 1 Out 1979).
(14) A prática pré-Conciliar obrigava, à luz do CIC de 1917, a usar o hábito eclesiástico fora da liturgia a partir da “Prima Tonsura”, na medida em que se ficava vinculado ao estado clerical. Contudo, mesmo antes da clericatura, era obrigatório para os alunos do Seminário, que o usavam dentro e fora do Seminário (p. ex. no tempo de férias, quando iam à eucaristia).
Depois do Concílio Vaticano II e da Carta Apostólica Ministeria Quaedam (de Paulo VI) perde-se a vinculação do hábito eclesiástico à clericatura. Juntamente com o Rito da Admissão às Ordens Sacras e a Instituição nos Ministérios, passa a ser entendido no contexto do estado laical.
Ao contrário do verificado em muitos Seminários, Congregações e Dioceses do mundo, o vazio legal a este respeito em Portugal é um facto, já que nem o CIC de 1982, nem a Conferência Episcopal Portuguesa, nem os Ordinários dos Lugares legislaram sobre o assunto. É urgente reflectir sobre o tema.
(15) Como se pode constatar em VICARIATUS URBIS, Normae, Part., Rivista diocesana di Roma 23 (1982), 1226-1228.
(16) Para a formação da consciência dos candidatos ao presbiterado no que diz respeito a este tema é incontornável o papel do Seminário, sob pena de se cair em consequências “desastrosas”. De facto, «O Seminário não tem o direito de ser permissivo perante tais consequências. Deve ter a coragem de falar, de explicar, de exigir» (Cf. Cong. para a Educação católica, Carta circular sobre alguns aspectos mais urgentes da formação espiritual nos Seminários, II, 2, op. cit.).